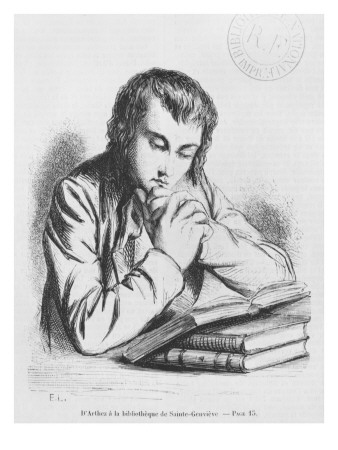Publico este texto para me contrapor à ideia de que a ausência de objetivos em um movimento político seja necessariamente ruim. O caso é se entendemos política apenas como práticas e relações institucionalizadas, e não tomamos também como um comprometimento coletivo em ampliar as suas próprias possibilidades. Assim, um movimento de eclosão, como foi o tão historicamente admirado Maio de 68, em outras proporções, pode ser uma abertura para algo novo.
* * *
No
dia 6 de Maio de 1968, em Paris, dez mil estudantes entram em choque com a
polícia, para evitar o fechamento temporário da Universidade de Sourbonne. A
medida repressiva vinha diretamente do governo francês, que tentava bloquear as
ações de protesto dentro do campus. Os universitários bradavam a favor de
mudanças radicais e, quatro dias depois, duplicaram o seu número para novo
embate. A Noite das Barricadas foi inserida na história com bombas de fumaça,
incêndios, correrias e pedras em arremesso contra capacetes. Era o estopim do
que culminaria ainda em uma greve geral por todo o país, com aderência de
operários e jovens trabalhadores.
Os episódios do “Maio de 68”, assim
contados, poderiam somar-se, com algumas novidades, aos inúmeros acontecimentos
de insurreição e protesto, seja na Europa ou em qualquer continente. O seu
cenário possui os elementos necessários e reinseridos: enfrentamento, protesto,
resistência, gritos e suspensão da rotina de todo um território. Faltou apenas
um, aquele que justamente ampliou a estranheza do movimento francês e provocou por fim
um ineditismo que até hoje é engradecido como um marco: a ausência de um ponto
definitivo contra o que se rebelava. “Para mim, militante revolucionário, era
algo incompreensível: era de fato uma brincadeira, uma vontade de fazer
qualquer coisa (...)”, declarou o anarquista Maurice Jouyex, em uma das entrevistas organizadas por Heyk Pimenta e Sergio Cohn no livro Maio de 68, na Série Encontros.
Edgar Morin (2008, p. 30), em um artigo de comemoração aos dez anos do evento,
inquire: “Maio de 68 tem uma outra dimensão, uma dimensão infra ou supra
política e que escapa às categorias das análises clássicas”.
Não
havia nenhuma frente de participação partidária, ou mesmo um programa definido
com propostas para alterações de leis ou estatutos. O desejo era por uma vida
mais legítima, melhor vivida e desimpedida de tabus ou opressões. Nos muros,
pichavam-se frases como “A imaginação no poder” ou “É proibido proibir”, nas
ruas se filmavam pequenos documentários com perguntas diretas aos cidadãos,
tais quais “você é feliz?” ou “o que é o amor?”. Eram reverberações das frentes
que inflavam a juventude de todo o mundo, tais como o ideal de pacificação dos hippies, a expansão de consciência através
de interferências psicotrópicas e de ritos em religiões alternativas, a luta
prática por utopias sociais, o rock’n’roll, o cinema, a poesia libertária dos beatniks junto ao seu toque de ordem “on
the road".
O que todos eles traziam, em maneiras distintas,
que se simbolizou no acontecimento da juventude parisiense, era uma vontade de
reinaugurar o mundo dos moldes arregimentados e compor novas relações de
convívio. O principal questionamento que se lhes deparava tem as mesmas
palavras do jornal Spiegel, em um
entrevista com Rudi Dutschke, um dos principais líderes do movimento estudantil
na Alemanha de 1968: “Por que o senhor
não entra em um partido para efetuar transformações?”. Daniel Cohn-Bendit,
marco do Maio em Paris, responde à mesma questão em outra entrevista:
Todo mundo se
tranquilizaria (...) se fundássemos um partido anunciando: “Toda essa gente
está conosco. Aqui estão os nossos objetivos e o modo como pensamos
alcançá-lo...”. Saberiam a forma em que se ater e portanto a forma de anular-nos.
Já não se estaria diante da “anarquia”, da “desordem”, da “efervescência
incontrolável”. A força do nosso movimento reside precisamente no fato de ele
se apoiar numa espontaneidade “incontrolável”, que dá o impulso sem pretender
canalizar ou tirar proveito da ação que desencadeou.
Em
outras palavras, os críticos, os opositores ou mesmo os colaboradores em debate
estariam perguntando à juventude das pichações, das aventuras, dos protestos
humorados, do “paz e amor”, dos solos de guitarra: “Isto o que vocês fazem é mesmo política?”. Caso não, permanecem os
acontecimentos apenas pelo exótico, pelo frenesi e pelas artes. Caso sim, e é o
que a História parece grafar, fica-se obrigado a reconhecê-los também como políticos,
mesmo longes dos mandatos, das instituições e dos modelos de governo. Nesse
ponto, então, sob autoria dos estudantes, a prática política se alarga das
propostas e das aplicações estatuárias também para as relações culturais, para
a efervescência das mentalidades e para a transformação pelo ímpeto.
Sartre, que participou do Maio de 68, nomeou este fazer político
como “expansão do campo do possível”. Trata-se de um tipo de ação que não prevê
as suas decorrências, por não conter antecipadamente um objetivo para elas. A
sua motivação é um descontentamento com um modus
vivendi, com a radicalidade dos
problemas e não apenas com problemas pontuais. A denúncia carregada não define
necessariamente o teor daquilo contra o que se reage, pois este mesmo pode
apresentar-se difuso e incompleto. A imaginação como enfrentamento traz um meio
de expandir as possibilidades, seja das causas do mal-estar generalizado, seja
de suas soluções imediatas. Expandir os fenômenos, retirar do nada mais seres para o real, é também uma atitude
de transformação para a comunidade. Assemelha-se em termos com a definição que
Hannah Arendt (2008) traz em sua carta para o estudante alemão Hans-Jürgen
Benedict, às vésperas dos acontecimentos de 68: “A política (...) é a arte do
possível”.
Embora
a frase no contexto seja para trazer mais limites à grandeza de “revolução
mundial” que Benedict colocava, tratar a política como a inserção nas
possibilidades não necessariamente a conserva ou a destina à modéstia das
práticas institucionais. Arendt parece apontar sobre a precisão de se pôr a política em
um lugar, em um “limite”, a fim de que se saiba por onde insufla-la ou, nas
palavras de Sartre, expandi-la. Aumentar o campo de visão do espaço público
sobre as condições de se melhorar o que é comum se torna um gesto de criação dentro do limite.
Assim, a ação de pensar no possível da política novas formas de exercê-la, ou
seja, impingir “a imaginação no poder”, torna-se também um gesto decisivo.
Tal compreensão relacionada aos movimentos
estudantis e culturais da década de 60, assim como as suas próprias decorrências,
parece indicar outro sentido de política. Ela não seria um regime ou uma esfera, e sim uma relação com o outro em nível de igualdade, uma participação no que é comum em interferência que favoreça não
apenas as mudanças materiais, mas as culturais e históricas. Trata-se de um
compromisso em seu sentido ético para com os pares e de uma atividade essencial
para a esfera pública.
Em
seu livro póstumo O que é política?,
Arendt realimenta o sentido que encontrou entre os gregos: a política seria a
atitude de cada qual em relação aos outros, em doação e recepção, manifestando
no intercâmbio o compromisso com o bem comum. “Não
existe, pois”, diz ela, “uma substância verdadeiramente política. A Política
nasce no espaço intermediário e se constitui como relação”. Não se trata, portanto, de um espaço superior à comunidade, e sim um
“espaço que está entre os homens”. É nesse espaço intermediário que tomam lugar
não apenas as noções de autoridade, de poder e de governo, como também as de
expressão e as de cultura.
A
política não se restringe apenas a um instrumento ou a assuntos partidários,
como também à ética, ao pertencimento ativo entre os homens enquanto membros de
um mesmo corpo. Não se trata apenas de indagar “em quem você vai votar nas
eleições?” ou exclamar “eu não acredito mais em política, afinal político
nenhum presta”. A dimensão se aprofunda a tal ponto que indagar “qual a sua
opinião sobre o esquecimento das raízes tradicionais entre os mais jovens
hoje?” ou exclamar, como um dos manifestantes do maio de 68, “Sejam realistas,
exijam o impossível!” se faz igualmente participante de um movimento político.
O
que causa admiração em Hannah Arendt quanto à agitação estudantil na década de
60 é a efervescência e a preocupação com o futuro em sentido amplo, seja pela
ecologia, pela educação ou por questões comportamentais. Sobre as manifestações
da juventude em vários pontos do mundo, a pensadora comenta, em seu ensaio Sobre a violência, de 1969:
Parece
descartado um denominador comum e social para o movimento, mas o fato é que
esta geração parece em todas partes caracterizada por sua pura coragem, por uma
surpreendente vontade de ação e por uma não menos surpreendente confiança na
possibilidade das mudanças.
Uma
vez que as preocupações não passam apenas pelas questões técnicas da política,
os conteúdos em questão parecem permitir com mais força uma “surpreendente
confiança na possibilidade das mudanças”. Arendt que não crê em uma revolução
fabricada, ou seja, feita “intencional e arbitrariamente”, e sim
a partir da inteireza de circunstâncias e da alimentação transformadora de condições
(conforme ela descreve o ponto positivo da Revolução Americana em Sobre a revolução),
vê na vontade mais ampla das investidas estudantis, que se somam ao mesmo tempo
às ações localizadas de transformações no meio, uma vocação política de grande
potencial para mudanças. “Nada no movimento”, entretanto, “é mais surpreendente
que seu desinteresse", indica a pensadora, em consonância com o
estudante Daniel Cohn-Bendit, para revelar o aspecto de novidade que há na
“pura coragem” e na “surpreendente vontade” da juventude. Um desinteresse de
objetivo pré-determinado, no interesse de mudar e expandir o que já está posto
e trazer cada vez mais o novo.
(Saulo Dourado)